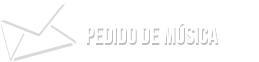
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
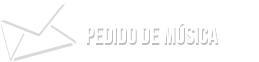
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Por Paulo Passarinho* para o Jornal dos Economistas
O governo Temer chega ao seu final. Tendo tido o seu início como consequência direta do impeachment de Dilma, e agora chegando ao seu término, qual o seu real signicado? A pedido da editoria do nosso JE, procurarei responder a essa pergunta, buscando compreender o atual processo da economia brasileira, bem como suas consequências para o conjunto da sociedade, particularmente em função da crise social e institucional em que estamos mergulhados, de desdobramentos imprevisíveis. Em meio à crise que acabou por levar ao impedimento de Dilma, setores da plutocracia brasileira, junto com a oposição parlamentar de direita e o atual MDB – sob o comando de Michel Temer e Eduardo Cunha, procuravam reforçar o já conhecido receituário liberal, como suposta alternativa para a superação da recessão econômica, em curso naquele momento.
O governo Dilma já havia se rendido a esse receituário, ao nomear Joaquim Levy para o ministério da Fazenda. Mas, em agosto de 2015, setores que posteriormente vieram a reforçar a pressão pelo impeachment, como é o caso do presidente da FIESP, Paulo Skaf, apresentaram à Dilma Rousseff um conjunto de propostas para supostamente viabilizar a chamada retomada do crescimento econômico, através da “melhoria do ambiente de negócios”, do “equilíbrio fiscal” e da “proteção social”. A rigor, a diretriz liberal já havia dominado a orientação do governo Dilma, desde a nomeação do executivo do Bradesco para a pasta da Fazenda. Contudo, naquele momento a posição de Levy se fragilizava, na medida em que a oposição parlamentar, sob o comando de Eduardo Cunha, havia acabado de aprovar a chamada “pauta bomba”, elevando gastos da União, em meio aos apelos da equipe econômica para um ajuste das despesas governamentais. Em maio daquele ano, a bancada do PSDB, com o apoio de outras bancadas de partidos da direita, já havia votado contra uma série de medidas propostas por Levy, inclusive derrubando o chamado Fator Previdenciário, herança dos governos dos próprios tucanos.
Apesar de algumas variações, a proposta da plutocracia brasileira frente à crise – representada sobretudo por bancos, seguradoras e multinacionais – tinha como objetivos (1) exercer um controle ainda mais intenso sobre o orçamento público, arrochando despesas de custeio e investimento e, ao mesmo tempo, liberando parcelas ainda maiores para as chamadas despesas financeiras; (2) reduzir ainda mais o custo do trabalho no país; e (3) abrir uma nova oportunidade de negócios para as corporações privadas, incluindo o capital internacional, em torno de concessões de serviços públicos de infraestrutura – portos, aeroportos, estradas, geradoras e distribuidoras de energia –, na exploração do pré-sal e na expansão da previdência privada. É a partir dessa estratégia que procuramos entender as mais diferentes medidas que vêm sendo implementadas ou propostas desde o agravamento da crise.
Mas qual o significado desse caminho? Teríamos, por essa via, capacidade de retomar o crescimento econômico? Gerar empregos de qualidade? Reduzir o custo do dinheiro, em um país que precisa elevar o seu nível de investimentos? Ampliar mecanismos de combate à indecente desigualdade social? Promover políticas de distribuição de rendas e riqueza, atenuando desequilíbrios gritantes da nossa população e entre nossas regiões? Infelizmente, não. O objetivo dessa estratégia é meramente defensivo, em relação aos interesses dos grandes grupos capitalistas, em ação no país. Não embute nenhuma solução sistêmica para a contração da demanda e a retração do produto. Procura-se primeiramente garantir espaços conquistados em um momento em que a própria crise produz uma rearrumação patrimonial, com a forte desvalorização de ativos e a possibilidade de lucrativas transferências de propriedade. Defensivo para o capital, mas extremamente agressivo aos interesses da população em geral, especialmente aos trabalhadores.
A abolição ou flexibilização de direitos sociais, como a concessão do seguro-desemprego, ainda no governo de Dilma, em 2015, na gestão de Levy no ministério da Fazenda e em meio ao grave desemprego que recrudescia naquele momento; as inúmeras alterações na legislação trabalhista; o estabelecimento de novas regras – de arrocho – para estados e municípios, em torno da questão fiscal; a Emenda Constitucional 95, estabelecendo o chamado teto de gastos para as despesas não financeiras, por 20 anos; as alterações do marco regulatório do petróleo do pré-sal; ou a pressão por maiores alterações nas regras previdenciárias, também restringindo direitos e objetivando reduzir o teto do valor dos benefícios, além de pretender ampliar a idade mínima para o acesso aos mesmos, são exemplos dessas medidas, de proteção aos interesses do capital e de ataque aos trabalhadores e maiorias do país.
Não oferecem nenhuma possibilidade de enfrentar os problemas estruturais que impedem o país de aproveitar as nossas imensas potencialidades e possibilidades de superar o quadro de miséria e pobreza da maioria da população. Apenas procuram preservar os interesses dos capitalistas e de suas empresas, sem oferecer ao conjunto da sociedade soluções para a estagnação econômica, o desemprego e a crescente dependência do país à dinâmica ditada pelos países centrais do capitalismo global. Desde os anos 1990, a classe dominante brasileira aderiu ao chamado ciclo de reformas neoliberais, como resposta ao impasse do modelo dito desenvolvimentista, inaugurado no país na primeira metade do século XX, e também como reflexo direto dos movimentos de liberalização financeira, flexibilização de normas e controles estatais e privatizações de empresas públicas, no âmbito das economias ocidentais, sob influência direta do Tesouro norte-americano.
Os governos de Collor, Itamar e FHC deram forma no país, assim, a uma nova etapa do desenvolvimento capitalista, paulatinamente procurando desconstruir o longo processo anterior que, iniciado ainda nos anos 1930, procurou estabelecer as bases, ainda que frágeis, de um projeto nacional de desenvolvimento. A eleição de Lula, em 2002, politicamente representou a rejeição às consequências que já então se manifestavam como lesivas ao interesse nacional e ao bem-estar do povo. A reestruturação produtiva impulsionada pelas reformas neoliberais e a consequente onda de desemprego que se seguiu, assim como o movimento de fusões e aquisições na área privada, em geral beneficiando o capital estrangeiro, a maior concentração de negócios e as privatizações de empresas do setor público, além da queda de qualidade dos serviços públicos voltados à maioria da população, mostravam que o projeto neoliberal tupiniquim estava com os seus dias contados.
A vitória de Lula e do PT – liderança e partido principais de combate a essas reformas – mostrava que a sociedade brasileira havia optado por outro caminho. Contudo, o caminho escolhido a partir de 2003 pelos novos governantes não foi de rompimento e superação da herança deixada por FHC e seus antecessores. Em nome de uma suposta governabilidade, capaz de continuar a contemplar os segmentos dominantes do capital financeiro e ao mesmo tempo introduzir medidas de inclusão social e econômica para a maioria do povo, a opção foi manter os postulados básicos da política macroeconômica anterior e apostar na ampliação de programas sociais compensatórios, focalizados junto aos mais carentes, além de medidas de inclusão econômica, via ampliação do crédito e da maior oferta de empregos de baixa qualidade, em setores como construção civil, comércio e serviços em geral.
O objetivo desse texto, de balanço da herança e consequências do governo Temer, não comporta maiores considerações sobre as particularidades das gestões do PT na condução da política econômica. Entretanto, cabe assinalar que aspectos de certa heterodoxia aplicada pelos governos petistas na gestão do modelo herdado dos anos 1990, do neodesenvolvimentismo do segundo mandato de Lula à nova matriz macroeconômica do primeiro governo Dilma, foram inteiramente abandonados frente às condições em que se deu a vitória eleitoral de 2014. Pressionada pelas repercussões políticas da Operação Lava Jato e pelos efeitos da estagnação econômica, Dilma entregou a administração da economia para Joaquim Levy, um executivo do Banco Bradesco e de genuína linhagem liberal. Ainda no curso desse governo, Levy acabou substituído por Nelson Barbosa, mas sem alterar substantivamente a opção adotada desde o início desse segundo mandato da presidente que acabou impedida.
O governo Temer, desse modo – frente ao boicote da própria oposição parlamentar de direita à Dilma e às suas medidas de natureza contracionista, baseadas na ortodoxia fiscal e no arrocho aos direitos dos trabalhadores –, tornou-se a alternativa factível para a aprovação de medidas legais no parlamento, buscando as pretensas “soluções” para enfrentar a crise, de acordo com o capital financeiro. O resultado encontra-se visível a todos: depois de um longo período recessivo, mergulhamos em uma estagnação econômica, traduzida em baixíssimo nível da atividade produtiva, elevado desemprego e subutilização da força de trabalho e da capacidade produtiva do país, combinados com uma crise financeira que degrada ainda mais os serviços públicos e as condições de governabilidade dos entes federados. Com a crise política que continua em curso e que se refletiu na própria inusitada vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, o governo Temer foi a verdadeira ponte entre a capitulação do PT à ortodoxia liberal e o abismo representado pelo futuro governo a ser empossado em janeiro próximo, com todas as suas gritantes fragilidades e deformações.
*Paulo Passarinho é economista e apresentador do programa Faixa Livre
Publicado em 04.12.2018